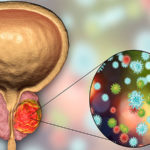O navio Arctic Sunrise, na Antártida. ABBIE TRAYLER-SMITH/GREENPEACE / ABBIE TRAYLER-SMITH
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-01-19/e-luz-demais.html
A Bordo Do Navio Arctic Sunrise – 19 JAN 2020
No segundo relato enviado da Antártida, Eliane Brum narra o sentimento de “maravilhamento” que tomou conta dela ao entrar em um território livre de carimbos: “Sentia saudade de chorar pela beleza. Chegando na Antártida, eu chorei e chorei”
primeiro sinal de que estou entrando num mundo inteiramente novo é o carimbo. Ou melhor. Não há carimbo. Deixamos o Chile pelo aeroporto de Punta Arenas, de onde embarcamos num pequeno avião para King George Island, uma ilha onde há bases de pesquisa científica de várias nações. Estou entrando num outro continente. Não há nenhuma barreira onde um agente do Estado me pede o passaporte e, com base nos preconceitos de seu país, e também em seus próprios, decide se sou digna de atravessar a fronteira ou não. Tudo o que acontece é alguém perguntando: “Chile ou Rússia?”. A pergunta é apenas para saber para qual base deve despachar a bagagem. Naquela geografia, Chile e Rússia ficam lado a lado e podem se encontrar para beber uma cerveja ou uma vodka depois do trabalho. A bagagem do meu grupo, em vez de baixar na praia, foi por engano para a Rússia. Voltou a salvo.
Só quem já ficou detido em fronteiras, por ter uma raça ou uma nacionalidade ou uma conjunção de fatores pessoais indesejados ou suspeitos, conhece a dor do carimbo. Eu tenho pavor destes lugares. Uma vez fui convidada para fazer uma palestra em Miami, nos Estados Unidos, e passei algumas horas detida na imigração porque a universidade havia insistido que eu pedisse um visto específico quando chegasse ao guichê. Eu tinha certeza de que isso causaria problemas para entrar nos Estados Unidos, mas os organizadores insistiram e de imediato me tornei suspeita de querer imigrar para a “maravilhosa” América. Grande parte dos agentes eram descendentes de latino-americanos. Seus pais ou avós imigraram. Pensei se esse lugar subalterno que lhes era conferido na sociedade americana teria adicionado àqueles homens e mulheres a crueldade própria daqueles que sabem que seu lugar naquela comunidade é precário. E então encobririam seu sentimento de não pertencer usando o pequeno poder de esmagar seus iguais, como se o carimbo pudesse mudar a cor da pele e a história.
Junto com outros indesejados, a maioria de países muçulmanos, fiquei numa sala com uma TV ligada. Nela, Donald Trump cuspia. Sempre tenho a impressão de que ele cospe, para que suas palavras possam perfurar mais. Naquele momento, dizia que os mexicanos eram “traficantes ou estupradores”. Eram as boas-vindas da América.
Meu incômodo com carimbos se tornou dor no final de 2018. Jair Bolsonaro havia ganhado a eleição e anunciado que oposicionistas seriam “banidos do país” ou iriam para “a ponta da praia”. Ponta da praia é como os militares chamavam um lugar de execução dos dissidentes da ditadura militar que oprimiu o Brasil de 1964 a 1985. Naquele momento, eu tinha uma viagem para Londres, planejada há muito tempo. Deixar o Brasil naquele momento, porém, era não saber para qual país eu voltaria. Não conseguia reconhecer o país que havia elegido um homem que defendia a tortura e o assassinato, um presidente que ousava afirmar publicamente que pessoas como eu eram indesejadas, que incitava o ódio contra jornalistas como eu. Aquele país capaz de eleger um déspota me tornou estrangeira até eu ser capaz de compreender que, enquanto eu seguisse lutando por outro Brasil, aquele que é plural, diverso e acolhedor de todas as diferenças, aquele que seguia lá, nas bordas e nas entranhas, e que nenhum racista seria capaz de arrancar de mim, eu estaria no meu país no sentido mais profundo.
Naquele rápido período na Europa, fui a Bélgica de trem entrevistar Anuna de Wever, uma das mais importantes líderes da greve escolar pelo clima. Na volta para o Reino Unido, fui detida. Os britânicos suspeitavam de que eu quisesse ficar para sempre com eles. Fiquei no lugar nenhum, um cercadinho em que você é confinado, sem poder voltar nem avançar, à espera do veredito. As pessoas passam para alcançar a imigração e olham para você e sabem que você foi considerada de segunda classe. Perdi o trem, mas acabei entrando. E, entrando, queria sair. Mas, para onde? Entre o Brasil de Bolsonaro e o Reino Unido do Brexit, como escapar?
Conto isso para que vocês possam compreender o que significa para mim ―e sei que para muitos― entrar num outro continente em que ninguém vai decidir se temos direito ao carimbo no passaporte ou não. Em que não há polícia armada nem gaiolas para indesejáveis. Em que o máximo que pode acontecer é minha bagagem ser despachada por engano para a Rússia, que é logo ali, e você apenas diz: “é para deixar na beira da praia”. Não na ponta da praia de Bolsonaro, mas na beira de um mundo novo, onde um bote me levaria até o navio Arctic Sunrise, do Greenpeace, onde os ativistas me ajudariam a entrar pela escada do convés e Laurance Nicoud, a cozinheira francesa, me esperaria com o almoço mais delicioso.
Isso não significa que não há controle na Antártida. É necessário pedir autorização para visitar as bases de cada país e também para fazer pesquisa e também turismo. Mas não há muros, não há polícia, não há carimbos. O controle, ali, é cuidado com as outras gentes que vivem naquele mundo e não são humanas.
A Antártida será para sempre uma utopia que se realiza, meu espaço interno de resistência, minha alma sem fronteiras que ninguém pode arrancar de mim
E então, livre, encontro a beleza do lugar que pertence a todos para pertencer apenas a si mesmo. Poderia mostrar uma foto da chegada, mas nenhuma delas mostraria esse lugar que cada um deve imaginar por si mesmo. Pela imaginação há como alcançar. A fotografia, neste caso, enquadra e reduz. Mesmo que você nunca possa alcançar a Antártida, ela é sua e pode ser acessada de dentro de você. A Antártida será para sempre uma utopia que se realiza, meu espaço interno de resistência, minha alma sem fronteiras que ninguém pode arrancar de mim. Nem de você. Antártida é o nome de tudo pelo qual eu luto.
Desde que meu pai morreu, em 2016, eu choro pouco. Parece que as lágrimas secam no caminho em que passam da minha alma para os meus olhos e, no máximo, eles boiam. Sentia saudade de chorar pela beleza. Chegando na Antártida, eu chorei e chorei. Chorei de maravilhamento. Quem me esperava eram pinguins. Eu não posso tocá-los e não devo superar os cinco metros de proximidade. Sim, há regras. E elas são boas. É incrível estar num lugar em que os animais têm o direito, amplo e irrestrito, de não serem tocados.
Sei que King George é apenas o primeiro nome em inglês que vou encontrar na Antártida. Os ingleses fincaram muitas bandeiras no continente. Entre os séculos 19 e 20, a “conquista” da Antártida e do polo sul magnético e geográfico entre várias nações europeias transformou a última fronteira desconhecida num troféu de afirmação do imperialismo. Neste período, os ingleses batizaram mais do que padre de paróquia do interior. Entendo que cada um pode dar o nome que quiser. Talvez para mim seja o lugar que não precisa de nomes para ser.
Começo a escrever este texto às 4h da manhã. O navio adotou o horário do Chile, que é o mesmo que do Brasil. Como é verão, lá fora está sempre claro. Dia e noite. Ainda assim, há por do sol na madrugada, apenas para que ele possa nascer em seguida, mais uma vez. A claridade nunca se dissipa por completo. Há 33 pessoas, 13 nacionalidades, 13 diferentes culturas a bordo do Arctic Sunrise. A língua é o inglês, mas falado com os mais diferentes sotaques. Há uns poucos falantes nativos do inglês, mas ainda assim é a língua que se impõe. Esse é o imperialismo dos americanos, que se mostrou mais efetivo do que o dos ingleses depois da Segunda Guerra. O sotaque é o que resiste em cada um de nós.
Nas instruções de segurança, o argentino Ignacio Soaje, mais conhecido como Nacho, o segundo na hierarquia do comando, pede com muita ênfase que usemos o vaso do banheiro apenas “para o número um, o número dois e o número 3”. Marion Cotillard interrompe: “O um e o dois eu sei, mas o que é o três?”. Sim. Marion Cotillard, a premiada atriz francesa de filmes como Piaf e Macbeth, está a bordo. Convidar artistas ativistas é também a maneira pela qual o Greenpeace chama a atenção do mundo para suas causas. Quando Nacho mostra onde estão os remédios para enjoo e diz que devemos parar e vomitar em qualquer lugar, exceto na pia da cabine, Gustaf Skarsgard descobre: “Este (o vômito) é o número 3!”. Sim, o ator sueco que ficou conhecido pelo papel de Floki, na série Vikings, também está a bordo.
Não sei lidar com celebridades. Também por isso Marion e Gustaf só vão aparecer no décimo parágrafo. Possivelmente para o desespero dos editores, que podem pensar que eles deveriam brilhar no primeiro. Marion e Gustaf são pessoas inteligentes. Gustaf é também muito engraçado. Ambos falam coisas interessantes que eu poderia reproduzir neste diário. Mas sinto que estaria invadindo de algum modo a privacidade deles. Até o final da expedição, talvez eu consiga dizer a Gustaf que Floki é meu personagem favorito em Vikings. E, a Marion, que sei que o filme é bom se ela estiver nele. Mas talvez não consiga.
No primeiro dia eu não vou ao convés, exceto numa rápida passagem para receber instruções de segurança. Depois do jantar, muita gente foi para o convés. Eu fui para a cabine. Desde criança sou assim. Preciso costurar para dentro, como dizia Clarice Lispector. Preciso chegar à Antártida dentro de mim. A paisagem é tanta – e tanto – que sinto que pode me ofuscar para sempre.
“Vimos uma baleia”, Gustaf conta. No primeiro dia, estou sem condições de ver uma baleia. Ainda estou assimilando os pinguins da praia e a chegada sem carimbo. Se dou a sorte de subir ao convés e uma baleia aparecer, como se estivesse indo logo ali, na esquina comer uns krills, sinto que posso morrer. Não consigo apenas ver uma baleia. É como se a baleia inteira de imediato entrasse dentro de mim. E elas pesam toneladas. Escrever é a forma que conheço para abrir espaço para as baleias que virão.
Hoje é domingo também na Antártida. Decidiram que é. Podemos então dormir até as nove da manhã. No domingo, também não precisamos fazer a limpeza do navio. Vou tomar mais um remédio contra enjoo e voltar a dormir até a internet reaparecer para enviar este relato para vocês. Me sinto exausta por excesso de sentimento. Hoje à tarde alcançaremos uma colônia de pinguins. E se houver pinguins e baleias, juntos? Preciso de uma estratégia de sobrevivência.