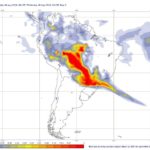Um excerto e uma entrevista com Michael O’Sullivan, autor de “The Levelling” (ainda sem título em português e não publicado no Brasil, por enquanto; literalmente, seria “O Nivelamento”).
junho 2019
“futuro aberto
por K.N.C.

O mundo já viveu o “ápice da democracia”? O futuro será esse em que sociedades abertas de mercados livres disputam influência em questões globais com países autoritários sob capitalismo de Estado? Essas questões evocam uma nostalgia de um passado convenientemente mais simples. Para Michael O’Sullivan, ex banqueiro de investimento e economista na Universidade de Princeton, vale mais a pena considerar o futuro.
O livro de O’Sullivan, “The Levelling: What´s Next After Globalisation” ( “O Nivelamento: O Quem Vem Aí Depois da Globalização”), oferece um mapa.O autor vê um mundo multipolar se formando, mas as instituições internacionais não estão preparadas para isso. Ele expressa preocupações com um mundo do baixo crescimento e dívida alta – e clama por um “ tratado mundial de riscos”, de modo que os bancos centrais se apoiem apenas em medidas de soluções quantitativas, sob condições concordadas.
Mas sua abordagem mais intrigante dessas questões é sua comparação do mundo de hoje com os Debates Putney da Inglaterra do século XVII, quando as praticabilidades de uma democracia baseada na direita foram enunciadas, pela primeira vez, por uma facção chamada “The Levellers” (“Os Niveladores” , daí a inspiração para o título do livro). O mundo, acredita ele, se dividirá entre os países “Niveladores”, talhados para os direitos e as liberdades, e os países “Leviatãs”, felizes com o crescimento controlado pelo Estado e muito menos liberdade.
Como parte do projeto Futuro Aberto de The Economist, nós sondamos as ideias de O’Sullivan em uma curta entrevista. Ao final da entrevista, há um excerto do seu livro sobre o fim da globalização.
***
The Economist: Descreva o que vem após a globalização. O que é esse mundo que você prevê?

O’Sullivan: A globalização já morreu. Nós devemos dizer-lhe adeus e ajustar nossas mentes ao mundo multipolar emergente. Este mundo será dominado por, pelo menos, três grandes regiões: os Estados Unidos, a União Europeia e uma Ásia sino-cêntrica. Essas regiões tomarão medidas muito diferentes com relação à política econômica, à liberdade, à guerra, à tecnologia e à sociedade. Países medianos, como a Rússia, a Grã Bretanha, a Austrália e o Japão esforçar-se-ão para encontrar seu lugar no mundo, enquanto novas alianças emergirão, como “uma Liga Hanseatica 2,0″ de Estados pequenos e avançados, como os da Escandinávia e dos Países Bálticos. Instituições do Século XX, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organizaçã Mundial do Comércio, se revelarão cada vez mais defuntas.
The Economist: O que matou a globalização?
O’Sullivan: Pelo menos duas coisas bateram o prego no caixão. Primeiro, o crescimento econômico global se desaqueceu e, em consequência, o crescimento tornou-se mais “financiável”; a dívida aumentou e houve mais “ativismo monetário” – isto é, os bancos centrais bombeando dinheiro na economia através da compra de ativos, tais como títulos e em alguns casos até mesmo ações – para sustentar a expansão internacional. Em segundo lugar, os efeitos colaterais, ou melhor, os efeitos colaterais percebidos da globalização são mais aparentes: a desigualdade da riqueza, o domínio das multinacionais e a dispersão das cadeias globais de suprimentos, tudo isso se transformou em temas políticos explosivos.
The Economist: A morte da globalização era inevitável ou poderia (e deveria) ter sido impedida?
O’Sullivan: Um fator problemático aqui é que não há nenhum organismo central ou autoridade que dê forma à globalização, além, talvez, do Fórum Econômico Mundial, ou talvez da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De várias maneiras, o fim da globalização é marcado pela resposta pobre e inconsequente à crise financeira global. No geral, a resposta tem sido cortar o custo do capital, e não atacar as causas-raízes da crise. Por isso, a economia mundial vai continuar a mancar, como um coxo, sobrecarregada pela dívida e enganchada ao dinheiro fácil dos bancos centrais.
The Economist: O título do livro vem dos “Niveladores” dos Debates Putney de meados de 1600, na Grã-Bretanha. Quem eram eles e o que a história deles pode nos ensinar hoje?
O’Sullivan: Os Niveladores são uma joia oculta da história britânica. Era um grupo de meados do Século XVII, na Inglaterra, que participou dos debates sobre democracia que ocorreram numa região de Londres chamada Putney. Sua maior realização foi elaborar “Um Acordo dos Povos,” que era uma série de manifestos que marcaram as primeiras concepções populares do que uma democracia constitucional poderia ser.
Os Niveladores são interessantes por duas razões. Primeiro, no contexto da época, sua abordagem era construtiva e prática. “O Acordo” expressa de uma maneira clara e tangível o que o povo quer daqueles que os governam. Por exemplo, propuseram limites temporais de mandato aos cargos políticos e que as leis concernentes às dívidas fossem aplicadas igualmente aos ricos e aos pobres.
Em segundo lugar, são interessantes pela maneira como o movimento foi revogado e extinto pelo líder militar Oliver Cromwell e pelos “grandees” (as elites de seu dia, os senhores). Como tantas outras iniciativas políticas idealistas, os Niveladores falharam. Isto deveria encorajar o número crescente de partidos políticos novos, como o Change UK (“Mude Grã-Bretanha”), a serem sábios em como enfrentar o processo de reforma política e mudança.
The Economist: Você prevê instituições internacionais novas substituindo as velhas e arcaicas instituições do século 20, melhor adequadas para um outro tempo. Como funcionariam? E países de valores tão distintos (ie, democráticos, “Niveladores” baseados no mercado, e sociedades e economias controladas pelo Estado, os “Leviatãs”) poderiam de verdade cooperar?
O’Sullivan: Muito se fala da rivalidade da Guerra Fria entre a Rússia comunista e os Estados Unidos, e agora alguns querem ver um conflito de civilizações entre a América e a China. O “nivelamento” caracteriza um futuro onde há pelos menos dois modelos de vida pública.
O modelo mais distinto para as nações fazerem as coisas à sua própria maneira será o que os Niveladores poderão chamar de “direitos de homens livres,” ou a ideia da sociedade aberta. O código dos Niveladores apresenta uma fórmula política muito clara que os europeus e os americanos reconheçarão pelos seus valores, mas decrescentemente pela sua prática.
O desafio a este código virá da aceitação emergente de modos muito menos democráticos de se conduzir a sociedade, tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Um conflito relacionado será o desejo de uma proporção crescente do eleitorado por uma sociedade mais aberta, à medida que as economias igualmente se abrem.
À medida que o mundo evolui ao longo das linhas de sociedades
do tipo Niveladores e sociedades do tipo Leviatãs, é possível que em alguns países, como na
Rússia, um modelo Leviatã – isto
é, ordem
em troca de democracia e direitos reduzidos – será o modo de vida aceito. Em outros países, como mais interessantemente na China,
à medida que sua economia perde impulso e evolução, pode haver uma tensão crescente entre os grupos que endossam a visão Leviatã (apoiada inevitavelmente pelos “grandees”, os senhores das elites) e os grupos do tipo Niveladores (que apoiam oportunidades iguais e um sistema multipartidário). O papel e as visões das mulheres, especialmente na China, e de grupos minoritários, como a comunidade gay, serão decisivos.
A emergência de uma nova ordem mundial, com base em grandes regiões e colorida pelos modelos Niveladores e Leviatãs de governança, ecoa diversos períodos na história. O desafio nos próximos anos será para nações do tipo Leviatã, como a China, manter a estabilidade econômica de modo que o crescente desemprego, por exemplo, não quebre “o contrato Leviatã”. Igualmente, o desafio em países Niveladores será manter sociedades abertas, fraternas, frente à volatilidade política e potencialmente econômica.
***
Adeus à globalização
Excerto de “The Levelling – What´s Next After Globalization”, de Michael O’Sullivan, publicado por PublicAffairs (Hachette Book Group)
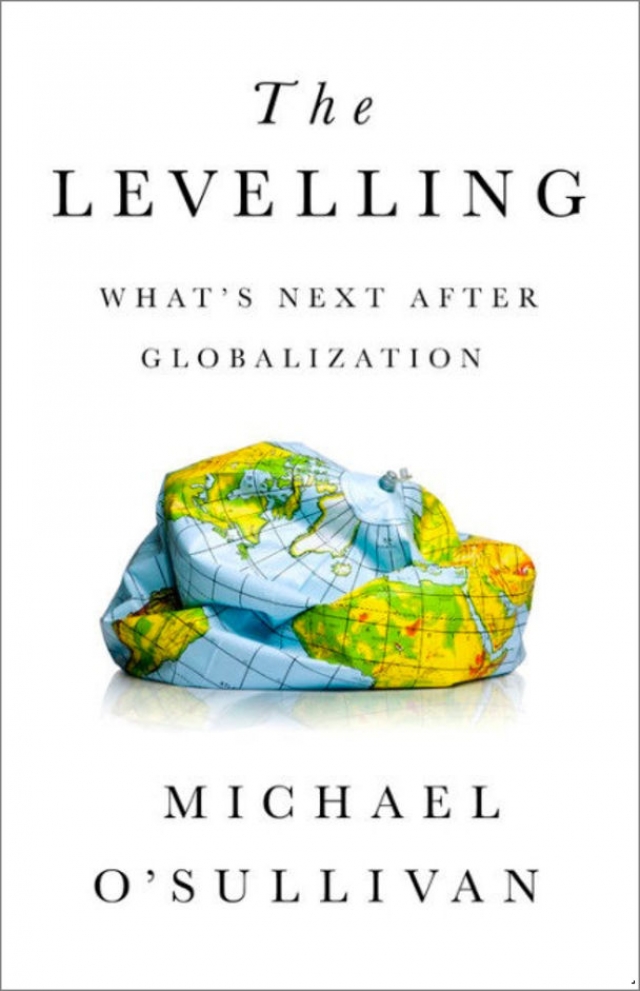
Pode ser bem melhor que aqueles que cresceram afeiçoados à globalização superem isso, aceitem sua passagem e comecem a se ajustar a uma nova realidade. Muitos resistirão e, como os trinta e cinco peritos em relações internacionais publicaram num anúncio no New York Times em 26 de julho de 2018, sob a bandeira de “Porque Devemos Preservar a Ordem e as Instituições Internacionais”, sentirão que a ordem mundial existente e suas instituições devem ser mantidos. Eu discordo. A globalização, pelo menos da forma como as pessoas vieram a apreciar, já morreu. Daqui em diante, a morte da globalização pode tomar duas formas. Um cenário perigoso é que testemunhemos o fim imediato da globalização do mesmo jeito como o primeiro período da globalização desmoronou, em 1913. Esse cenário é o favorito dos comentaristas porque lhes permite escrever sobre calamidades sangrentas de fim de mundo. Esse é, felizmente, um cenário de baixa probabilidade, e com desculpas a muitos comentaristas de poltrona que, por exemplo, falam desejosos de um conflito no Mar da China Meridional, sugiro que uma batalha marítima de larga escala entre a China e os Estados Unidos é improvável.
Em lugar disso, a evolução de uma nova ordem mundial – de um mundo inteiramente multipolar composto de três (talvez quatro, dependendo de como a Índia se desenvolva) grandes regiões que são distintas nos funcionamentos de suas economias, de suas leis, de suas culturas, e de suas redes de segurança – está manifestadamente a caminho. Penso que até 2018 a multipolaridade era um conceito mais do tipo teórico -, mais algo sobre o qual escrever do que testemunhar. Isto está mudando rapidamente: as tensões de comércio, os avanços tecnológicos (tais como a computação quântica) e a regulamentação da tecnologia são apenas algumas das fissuras em torno das quais o mundo está se dividindo em regiões distintas. A multipolaridade está ganhando tração e terá dois eixos grandes. Em primeiro lugar, os polos no mundo multipolar têm que ser grandes em termos de poder econômico, financeiro e geopolítico. Em segundo, a essência da multipolaridade não é simplesmente que os polos são grandes e poderosos, mas também é que desenvolvem maneiras culturalmente consistentes e distintas de fazer as coisas. A multipolaridade, na qual as regiões fazem coisas distintas e diferentemente, é igualmente muito diferente do multilateralismo, onde as fazem juntas.
A China, em particular, é interessante no contexto da mudança da globalização para a multipolaridade, não só porque no Fórum Econômico Mundial de 2017 o presidente chinês reivindicou o manto da globalização para a China. A China tirou proveito extremo da globalização e dos seus benefícios (por exemplo, a filiação à Organização Mundial do Comércio) e jogou um papel vital na dinâmica da cadeia de suplementos que conduziu a globalização. Contudo, os fluxos de comércio da China se afastam cada vez mais de um mundo globalizado e se aproximam de um mundo regionalizado. Por exemplo, os dados do FMI mostram que em 2018, comparado com 2011, o Camboja, o Vietnã, o Laos e a Malásia fizeram comércio mais com a China e relativamente menos com os Estados Unidos. Esses países, junto com Bangladesh e com o Paquistão, permitiram-se ser seduzidos por relacionamentos de comércio e investimento com a China e agora estão em sua órbita.
Contudo, a China propriamente não é globalizada: é cada vez mais difícil para empresas ocidentais fazerem negócio lá em igualidade de condições com as empresas chinesas e o fluxo do dinheiro e das ideias – para fora e para dentro da Chinca, respectivamente – está severamente reduzido. O fluxo de pessoas é um outro indicador. Os fluxos dentro da China são dinâmicos e são talvez mais controlados do que antes, mas os fluxos de estrangeiros para a China são minúsculos comparados com outros países, e a China só recentemente estabeleceu uma agência (a Administração Estatal de Imigração, criada no Congresso do Partido em 2018) para fomentar os fluxos de imigrantes para a China. Assim como a China se transformou num pólo principal, também se tornou menos globalizada e indiscutivelmente está contribuindo à tendência à desglobalização.
Em uma larga escala, sem escolher países individualmente, podemos medir a extensão pela qual o mundo está se tornando multipolar, ao examinarmos as tendências agregadas do comércio, do PNB, da inversão direta estrangeira, do tamanho do orçamento de governo, e da população. Tudo isso está muito menos concentrado, ou mais disperso, do que costumava estar, e cada vez mais se concentram em torno de diversos polos. Por exemplo, nos cinco anos de 2012 a 2017, a inversão direta estrangeira chinesa na Austrália aumentou a uma taxa de 21 por cento ao ano, comparado a seis por cento da inversão dos Estados Unidos na Austrália, sugerindo que o investimento asiático na Austrália está subindo.
[…]
Mesmo que a multipolaridade seja baseada na dispersão e na regionalização crescentes do poder econômico, é expressa igualmente de outras maneiras, notadamente poder militar, liberdade política e digital, sofisticação tecnológica, e um senso maior da prerrogativa e confiança culturais. Isto não é medido tão facilmente como a multipolaridade econômica, mas algumas vertentes claras estão emergindo. Para tentar sintetizar o que um polo implica, podemos apontar diversos fatores iniciais: tamanho do PNB de um país, tamanho de sua população, a existência de um legado imperial, a extensão de seu papel econômico regional, seu tamanho militar e sofisticação (por exemplo, orçamento absoluto, número de aviões de combate e navios), seu lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU relativo à sua região, e sua participação (ou não) em um grupo regional (tal como a OTAN ou a União Europeia).
Sob esse esquema, a União Europeia, o Estados Unidos, a China, e potencialmente a Índia são polos, mas o Japão e a Rússia não se qualificariam como polos distintos. A Rússia, por exemplo, posiciona-se bem em determinados aspectos da multipolaridade (por exemplo, militarmente), mas em seu estado atual pode não se tornar nunca num polo verdadeiro, no sentido empregado aqui.
[…]
O caminho para a multipolaridade não será suave. Uma tensão é que desde a Revolução Industrial o mundo teve um ponto de âncora em termos do locus e da propagação da globalização ( a Grã Bretanha no século XIX e os Estados Unidos no século XX). O fato de que há agora pelo menos três pontos de referência introduzem uma dinâmica nova e possivelmente incerta nos assuntos internacionais.
O potencial é alto para a fricção, o engano, e o conflito entre as maneiras cada vez mais diferentes de se fazer coisas nos polos principais. Essencialmente, a multipolaridade significa que em vez de falar uma língua comum, os polos principais falam distintas línguas políticas. A tensão no comércio é uma possibilidade óbvia aqui. Uma outra forma de tensão é a crise da identidade criada para os países que não estão completamente dentro de um dos polos – outra vez, o Japão, a Austrália, e o Reino Unido são os principais exemplos – e a crise da ambição para os países, tais como a Rússia, que querem ser polos mas faltam-lhes os recursos para conquistarem isso de forma convincente. No nível mais chão, as implicações do fim da globalização como nós o conhecemos e o trajeto para a multipolaridade se tornarão uma parte importante do debate político. À margem disso, o fluxo de pessoas, de ideias e de capital pode ser menos global e mais regional e há tempo poderia ser reforçado por um sentido crescente de regionalização, por parte dos polos principais. Em uma maneira negativa, um mundo mais multipolar pode ser o marco decisivo que sinaliza o ápice da democracia e potencialmente o começo de disputas, dentro das regiões, por visões competidoras de democracia, força institucional, governança estatal e controle.
Tradução de Edvaldo Pereira Lima [email protected] , agosto de 2019.